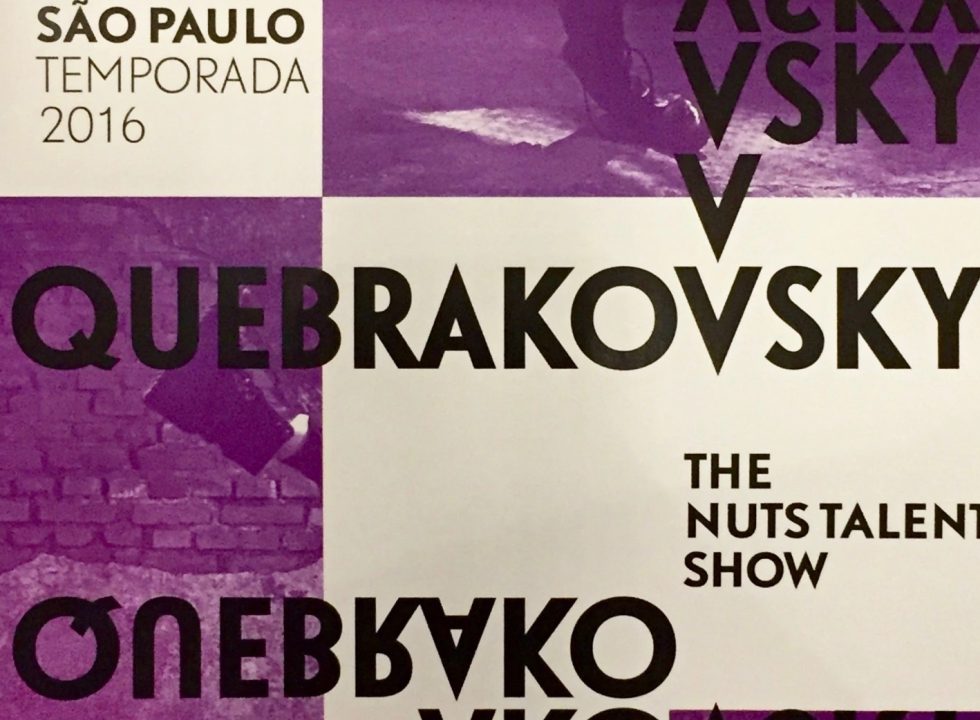Balé da Cidade chama seu público em programa experimental
Complexo, reflexivo e conceitual, o programa do BCSP no Municipal aposta mais uma vez na proximidade do público com a trilha sonora.
Com três estreias e uma obra do repertório, o Balé da Cidade de São Paulo apresenta nova temporada no Theatro Municipal, num programa repleto de propostas e de conceitos, eficiente em mostrar preocupações com a pesquisa de movimento, a criação a partir da improvisação, as mudanças nas estruturas de produção da companhia, um gosto estético pela dança extremamente pensante, e — sobretudo, aquilo que é o mais importante desse projeto —as formas de cativar o público e captar seu interesse.
Se o primeiro programa do ano, com a coreografia de Morena Nascimento sobre músicas de Caetano Veloso apresentou uma proposta para angariar o interesse do público — ocupar a plateia pela sedução imediata da música — tal proposta parece ter se convertido em fórmula, agora apostando suas cartas em David Bowie, que aparece duas vezes na longa noite.
A primeira das obras, “Deranged”, é criação de Chris Haring, e parte da música de Bowie e Brian Eno, bem como do método que Haring desenvolve na Holanda para falar da luta pessoal de alguém por sua construção enquanto indivíduo. Isso nos diz o texto do programa de sala. Em cena, o tema se reflete na fragmentação do discurso que ouvimos na trilha sonora e em uma forma de fragmentação corporal e fragmentação cênica.
A principal estrutura dessa fragmentação é a sequência cumulativa de procissões de solos de desarticulação, com os bailarinos vindo do fundo do palco para o proscênio, em princípio um a um, depois dois a dois, três a três, quatro a quatro. Esse longo princípio nos coloca numa ambientação estética curiosa, calma de certa forma, abrindo espaço e tempo para nos acostumarmos com esse novo estado de ser (ou seria estado de vir-a-ser?) que encontramos na coreografia.
A obra fica melhor em seus momentos maiores, com conjuntos, em que cada indivíduo trabalha replicando e sobrepondo informações coreográficas em sequências moldadas em linhas pelo espaço. Essa forma, junto da iluminação que parece acender e apagar botões verdes e rosas, sugere um estilo de ficção científica, talvez manipulação cromossômica.
Sim, é preciso pensar nessa fita como o DNA, nos bailarinos como os muitos processos químicos que vão rompendo essas ligações dos cromossomos, replicando-as e criando-lhes cópias para achar, num nível microscópico, as reflexões dessa discussão sobre a formação do indivíduo. Parece complexo, e de fato é, porque trata-se de uma obra que é um exercício mental que demora para pegar embalo, e depois tem um tempo curto para se frutificar.
Ainda encontramos algum alento mais ao final, quando a trilha sonora cresce e os bailarinos fazem um interessante uso da penumbra do proscênio, iluminado apenas pela luz que escapa do fundo do palco, criando sombras indeterminadas. Porém, a obra finaliza-se com mais uma invasão do corredor da plateia, recurso de apelação à participação que funciona e seduz o público que ali chega pela primeira vez, mas que já soa repetitivo para quem acompanha os últimos trabalhos dessa grande companhia.
Para preparar o palco para “Adastra”, a segunda da noite, criado por Cayetano Soto em 2015, é necessário baixar o fosso da orquestra e colocar as escadas que dão um acesso para os bailarinos do fosso ao palco. Para tanto, vem uma primeira longa e incômoda pausa técnica, estranhamente acompanhada de um pedido do Theatro de que o público não saia de seus lugares, nem use seus telefones — coisa que não havíamos recebido em temporadas anteriores.
Sem nenhuma outra opção, o público que estiver um pouco acima do nível da plateia, fica assistindo a essa montagem cênica. E aqui perdemos uma grande oportunidade: a da surpresa. Parte da poesia de “Adastra” está na forma como os bailarinos surgem por essas escadas e entram na cena, algo que, nas temporadas anteriores, se dava com o efeito de encanto e de inesperado e que aqui, depois de vermos a colocação das escadas, se resume à confirmação do esperado.
Já duas vezes eu defendi aqui no da Quarta Parede que “Adastra” é uma das joias do repertório do Balé da Cidade. E continua sendo. Com o detalhe de que esse ano ela está melhor dançada do que na temporada passada. Com seus focos de luz de diversos tamanhos, movendo-se pela cena, “Adastra” tem um todo celeste, alimentado pelos duos de levitação, em que as bailarinas quase não tocam no chão, e pela enorme quantidade de articulações, suportes, formas de pegada e carregamento que aparecem desenvolvidas por Soto.
Perto do final da obra, outro daqueles instantes de sedução do público — esse, com inegável razão de ser. Trata-se de uma chuva de peças brilhantes, que parecem vir ilustrar o título da obra: Adastra vem da frase em latim per aspera ad astra (pelo esforço, o triunfo). Triunfo que se faz na frase pela imagem dos astros / estrelas (astra), e que aqui parecem chegar para os bailarinos. Infelizmente, essa chuva brilhante se realiza quase discretamente, e apenas no fundo do palco. Se representante da glória do título, nos deixa com o desejo de que tomasse a cena completamente, transbordasse pela platéia e nos invadisse desse triunfo compartilhado. Uma glória, portanto, não tão grande, mas que não diminui a realização da obra, recebida pelo público com entusiasmo e uma sensação geral de impacto.
“Trovador”, de Alessandro Pereira da continuidade ao programa com uma forma de contorcionismo coreográfico. À imagem do trovador associamos a ideia de um porta-voz, um arauto, comentarista de seu tempo. Para trabalhar essa figura, vemos na coreografia estruturas que colocam em destaque um indivíduo descolado do grupo.
Pélvica, pulsante e sincopada, a coreografia é marcada por uma quantidade de insistentes movimentos que partem dos intérpretes e se dirigem para fora, para o outro: são mãos que batem na cabeça, ou na direção da boca, e pulsam para longe dos corpos, como se desafiassem (não se sabe o quê), ou rejeitassem (não se sabe o quê), ou questionassem (não se sabe o quê).
Essa dúvida tem um paralelo interessante com a figura do trovador. Suas cantigas de fato eram marcadas por estruturas melódicas simples, nas quais múltiplos assuntos e enredos poderiam com facilidade se encaixar. A genialidade do trovador não é a sua composição, tampouco seu canto, mas a sua capacidade de visão aguçada e de reflexão sobre o momento.
Porém, ficamos um pouco à deriva com que tempo é esse. Logicamente, fazemos a associação mais imediata: esse tempo é agora. Mas é um agora genérico. Ao mesmo tempo, isso é um risco e um trunfo da obra. Um trunfo porque, por ser indeterminada, ela pode ser recolocada em qualquer outro momento e com ele dialogar. Um risco, porque este programa se anuncia com uma expressão do corpo enquanto espaço político e documento de sua época, e a obra se limita à importância da voz, sem o tempo de desenvolver as dinâmicas que são colocadas sobre essa voz neste momento e sobre aquilo que essa voz nos diz — a obra se usa da forma da trova, porém se esquiva do comentário.
Dentro desse discurso tão histórico e historicista que tem sido feito sobre as propostas recentes do Balé da Cidade, foi um pouco estranho ver o programa se encerrar — depois de mais uma longa e incômoda pausa técnica — com um “epílogo”, assinado por Ismael Ivo, homenageando David Bowie, que já aparecera na trilha da primeira obra da noite, e cuja figura, ainda que marcante e emblemática, não nos fala nada especialmente sobre o momento de agora.
De mesmo tamanho que as demais obras, esse epílogo parece uma reflexão tardia para o programa, mas entrega aquilo que ele anuncia: “pequenas intervenções coreográficas”, calcadas em imagens, referências, símbolos, e relações pessoais de Bowie. Para os fãs do cantor, uns prato cheio. É um conceito e ele tem interesse, mas sua realização ainda está barrada numa procissão de cenas e projeções que ocupam o tempo, e cujo grande resultado se limita à interação proposta ao final da coreografia: “os bailarinos estarão disponíveis para fotos no saguão”.
Aliás, a ideia da ocupação do tempo se tornou fundamental nesse programa, que se iniciou às 20h e terminou às 22h20 na estreia, com os intervalos e pausas técnicas durando tanto quanto as coreografias e esse epílogo. O efeito é o da formação de múltiplos atos, pouco conexos, um demérito para um programa que se deu um título enquanto conjunto — “Danças e Quimeras”. Pincela-se um Bowie no início e ele é retomado no final, há um traçado de um projeto na costura das obras, mas as amarras são mais evidentes que seu fluxo.
Seu ponto forte é — como tem sido desde que Ivo assumiu a direção da companhia no início do ano passado — o entendimento preciso do espírito participativo e social do público atual. A esse público entrega-se algo que eles querem e valorizam: uma oportunidade de se sentirem parte do evento, e de publicar reações e fotos em redes sociais. Aumenta-se o reconhecimento e o interesse pelo BCSP, mas não necessariamente por sua dança, e sim por seus discursos.
O plano de marketing social da companhia está todo certo, e deve angariar seguidores, fãs, e interessados, sem dificuldades. Mas o que encontramos em matéria de dança continua nos deixando no “à beira” — acumulamos propostas e reflexões, que ainda aguardam sua completa realização, e, no fim, saímos do Theatro Municipal mais uma vez, com o “veremos o que o próximo programa nos aguarda”, cuja expectativa, começa a se acumular precipitadamente.
* parte da crítica de “Adastra” já havia sido publicada anteriormente no da Quarta Parede.