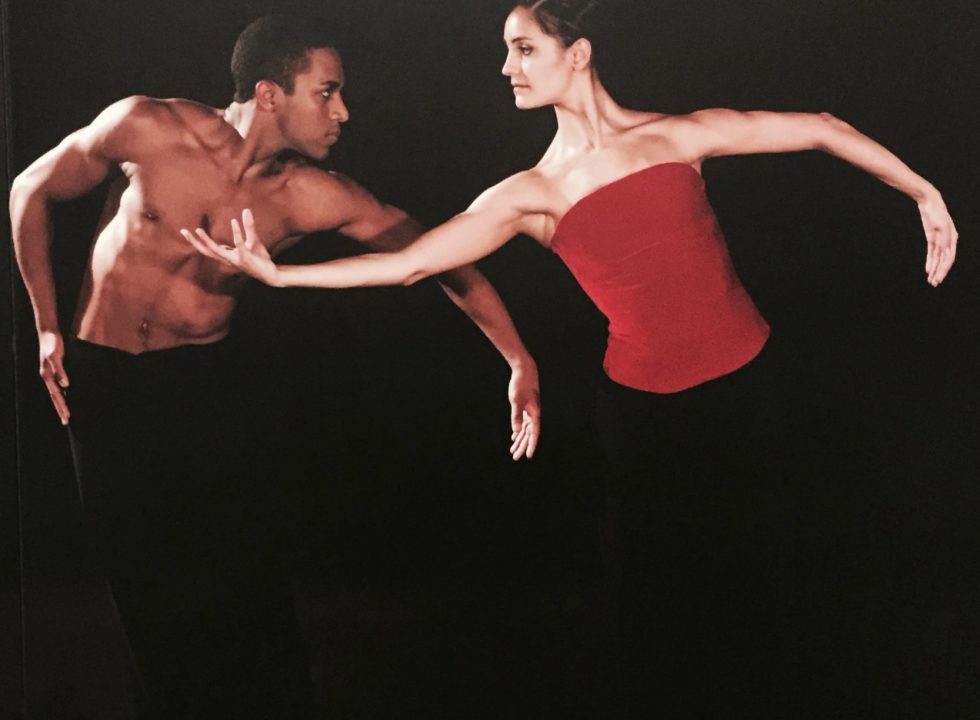La Sylphide | São Paulo Companhia de Dança
A temporada de junho da SPCD se encerrou com a reapresentação de La Sylphide, no repertório da companhia desde 2014. Ballet que pontua o início do romantismo na dança, em sua segunda versão, a de 1836, é a coreografia há mais tempo preservada em repertório. A versão da SPCD, montada por Mario Galizzi, é criticada no Da Quarta Parede.
‘La Sylphide’ é a obra que marca o início do romantismo na dança, originalmente criada em 1832 com coreografia de Felipo Taglioni para a música de Jean Schneitzhoeffer e libreto de Adolphe Nourrit. Resultado de uma série de adaptações da antiga Ópera de Paris tanto em sua modernização (com a recente iluminação a gás, implantada na década anterior) quanto em suas proposições estéticas, desenvolvendo as propostas do romantismo que se popularizara na frança desde o final do século XVIII, ‘La Sylphide’ trabalha o tema do sobrenatural, do contato dos humanos com criaturas místicas, e da contaminação da realidade pelos sonhos.
A obra marcou época, criando uma nova sensibilidade do público de dança. Foi dançada pelo mundo inteiro e exportada para diversas companhias de dança. Sua versão mais notável foi criada na Dinamarca por Auguste Bournonville, para o Royal Danish Ballet, em 1836 e foi preservada no repertório da companhia desde sua criação. Bournonville viu a versão da companhia de Paris, e, interessado pela proposta, quis comprar o libreto e a trilha sonora para criar uma versão sua, porém, o orçamento do Royal Danish não permitiu. Contentou-se com o libreto, e encomendou uma música nova, que foi criada por Herman Løvenskiold para a sua nova criação.
É na ‘Sylphide’ de Bournonville de 1836 que Mário Galizzi se inspira para criar a ‘Sylphide’ da São Paulo Companhia de Dança, estreada na temporada de 2014 da companhia, e agora encerrando a temporada de junho da companhia no Teatro Sérgio Cardoso. O enredo nos apresenta James às vésperas de seu casamento com Effie, mas sonhando, desde que sobe a cortina, com uma criatura alada, uma sílfide. James se perde entre sonho e realidade, dança com a Sílfide, se encanta por ela, e foge de seu próprio casamento para ir atrás da criatura no meio da floresta. É na floresta que, enganado pela feiticeira Madge, James envolve a Sílfide com um xale, na esperança de prendê-la consigo, e, ao fazer isso, mata a sílfide. Tendo abandonado seu casamento, e matado sua Sílfide, James fica perdido e desesperado na floresta.
Reflexo das dinâmicas dos amores impossíveis do Romantismo, e da valorização das características nacionais, a ‘Sylphide’ de Bournonville se inspira naquilo que era visto como o caráter nacional dinamarquês, com uma intensa referência à bondade e à autoridade moral. Assim, a relação da feiticeira com James só se torna negativa quando o fazendeiro a expulsa de sua casa, onde ela procurava abrigo e o calor da lareira. O coreógrafo reforça o caráter da moral que via perdido na versão francesa, com a lição clara de que um homem nunca deve abandonar seus deverem em busca de uma felicidade imaginária. Assim, a tragédia na versão dinamarquesa da ‘Sylphide’ não está exatamente na perda do ser amado, mas na perda do auto-controle por James: ele está condenado desde o momento em que sai de casa para a floresta.
Para pontuar as oposições, os dois atos do ballet se dividem entre a casa de James, onde é reforçada a expressividade da domesticidade, e a floresta de onde vem a Sílfide. Ambientar essas oposições é uma demanda trabalhosa, da qual dá conta o notável cenário de Marco Lima — testemunha de um período de fartura da SPCD, que tem visto cortes regulares em seu orçamento. Essa proposta de oposições já aparece carregada no libreto, que, pela primeira vez na dança, aposta intensamente no simbólico, sobretudo a partir das metáforas apresentadas pelas personagens femininas — Effie dominando o real, e a Sílfide, o imaginário. Nesse sentido, estranha-se que, na versão de Galizzi, vejamos tão pouco da interação entre James, Effie e a Sílfide, num momento popularizado da obra, quando um pas-de-deux se transforma em pas-de-trois no primeiro ato, e vemos James que dança com sua noiva, mas, sendo surpreendido pela Sílfide que apenas ele enxerga, dança ora com uma, ora com outra.
Se essa cena, marcada entre as muitas versões de ‘La Sylphide’ parece pouco presente na versão de Galizzi, o mesmo não pode ser dito das marcas técnicas do trabalho de Bournonville. Com sua companhia quase isolada na Dinamarca, e tendo dirigido o Royal Danish Ballet por 37 anos, o coreógrafo teve o tempo e as condições ideais para desenvolver um estilo único, mesclado das tradições do classicismo que aprendera com seu pai, mas também informado pelas novidades, sobretudo a infusão do atletismo com a dança, que se desenvolvia na França, sob influência dos italianos, e que formou toda uma geração de notáveis bailarinos, entre eles, o próprio Bournonville.
O coreógrafo dinamarquês dá um importante destaque para a participação masculina na dança, se recusando a deixar que os homens se tornassem suportes das bailarinas, como a tradição francesa faria durante o romantismo. Seu interesse na técnica da dança clássica atravessa seus trabalhos, e, especificamente, ao assistir Marie Taglioni (a filha de Filippo, que interpretou o papel título da ‘Sylphide’ francesa), ao contrário do senso comum, que comenta a leveza, a qualidade etérea do movimento da bailarina, o que Bournonville observa em suas memórias é o intenso trabalho e a força das pernas e dos pés de Taglioni: ele estava interessado nas dinâmicas de execução do movimento e suas potências, mais do que nos efeitos. Como resultado, podemos ver na ‘Sylphide’ da SPCD, que emula a técnica de Bournonville, um uso intenso e específico dos pés e dos membros inferiores, com um alteração constante da perna de apoio dos bailarinos, e movimentação ágil e trabalhosa, executada quase sem deslizes pelo elenco da companhia — algo surpreendente para a primeira noite de uma reestreia, sobretudo em se considerando as muitas alterações entre o elenco de 2014 e o que agora se apresenta.
Entre o novo atletismo e o velho classicismo, e com grande referência à interpretação de Taglioni, Bournonville incorpora o trabalho de pontas em seu ballet. A técnica de pontas, desenvolvida sobretudo pelos italianos, permite às bailarinas se elevarem e sustentarem apenas pela ponta dos dedos, e já existia desde antes da ‘Sylphide’, mas é o uso que Marie Taglioni fez dessa técnica, incorporando-a à expressividade cênica, e à realização dessa proposta específica de enredo que popularizou as sapatilhas de ponta, até hoje tidas como item de associação imediata ao ballet clássico. Não à toa, o trabalho com os pés aparece tão predominantemente na versão de Galizzi para a SPCD.
Apesar de todas as referências ao original, há algo que falta nessa versão. Trata-se de uma familiaridade, não com a técnica — essa abunda no elenco da companhia —, mas com o espírito romântico. O Mal-do-Século, o élan, o quase desespero da impossibilidade e o arrependimento que são retratadas pelas histórias e pelas alegorias desse período. Aqui, temos um enredo que se baseia num casamento falido, num amor impossível, e num homem que perde tudo, e, no entanto, a história é dançada pela SPCD como se fosse feliz. Impossível não questionar por quê tanto riso e tantos sorrisos nos rostos dos intérpretes. Não há nenhuma felicidade real na ‘Sylphide’, e apenas na cena final, no cortejo fúnebre da Sílfide vemos excessão à leveza das expressões.
O sonho do romântico é sombrio e assustador. E um pouco disso vai se perdendo com a dependência do libreto e da pantomima para o andamento da história — estes, ainda que funcionassem em estruturas claras de comunicação com o público da época da criação, hoje em dia ficam carregados e distraem. Não gratuitamente os ballets românticos se perderam na história: eles estavam tão amarrados à percepção e a sensibilidade de seu tempo, que dificilmente se traduzem para os dias de hoje. Quando buscamos paralelos, por exemplo em ‘Giselle’, que marca o ápice desse estilo na França, achamos exemplos que parecem melhor resolvidos, mas essa impressão vem do fato que a ‘Giselle’ que conhecemos hoje, é filha do academicismo russo, da versão de Petipa do final do século XIX, e não mais tão presa às tradições do romantismo, que foram preservadas na Dinamarca justamente por suas condições específicas de isolamento.
O valor da continuidade do trabalho de Bournonville está associado a um historicismo vindo de uma fama que, de fato, só se deu muito mais recentemente: antes do século XX, o coreógrafo era quase desconhecido fora da Dinamarca. Colocar uma companhia atual, em São Paulo, dançando essa obra, é o tipo de trabalho que precisa ser observado a partir de sua proposta enquanto simulacro de uma peça de museu: estamos frente a uma tentativa de mostrar uma obra de quase duzentos anos, mas refeita com as tintas, os pincéis, e pelos artistas de agora, que não têm necessariamente uma preocupação com (ou o preparo para) o restauro ou a fidelidade aos processos originais de produção.
O que vemos então, não é a ‘Sylhpide‘ de 1836, nem a ‘Sylhpide’ de Bournonville, mas uma reimaginação desse trabalho, para hoje, com referências suficientes ao estilo ultrapassado para que haja uma sensação de antiguidade, e, ao mesmo tempo, atualização suficiente para que ela possa ser realizada completamente pelos nossas artistas e para nossas plateias. Nem reconstrução histórica, nem reinvenção completa, a ‘Sylhpide’ da São Paulo Companhia busca um lugar e classificação apropriados, mas, sem dúvidas, se sustenta pelo grande trabalho cenográfico, coreográfico, e do elenco da companhia.