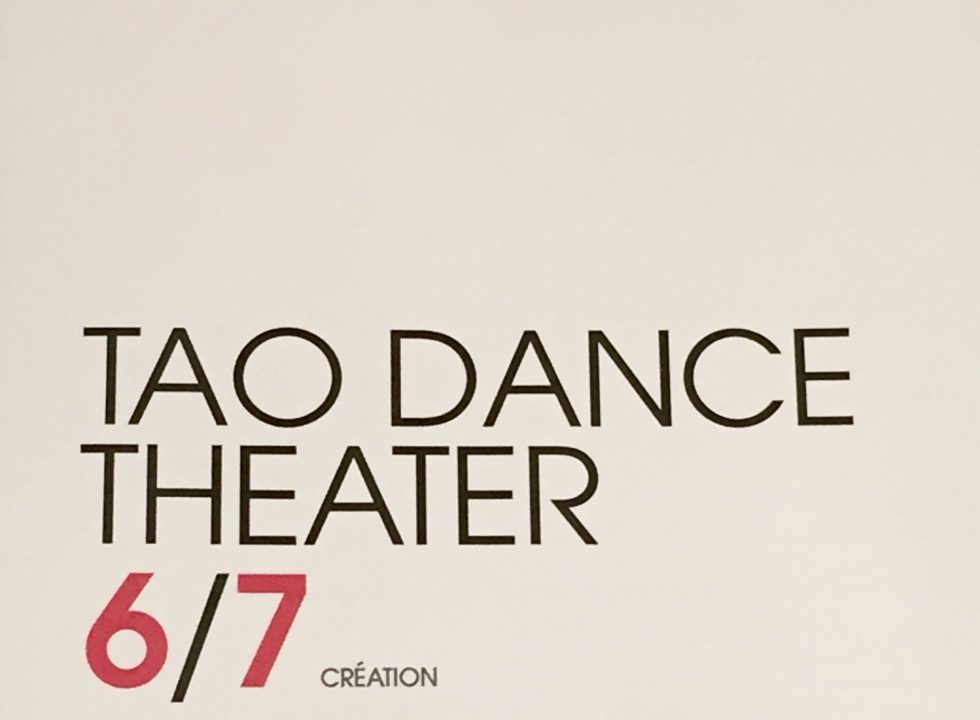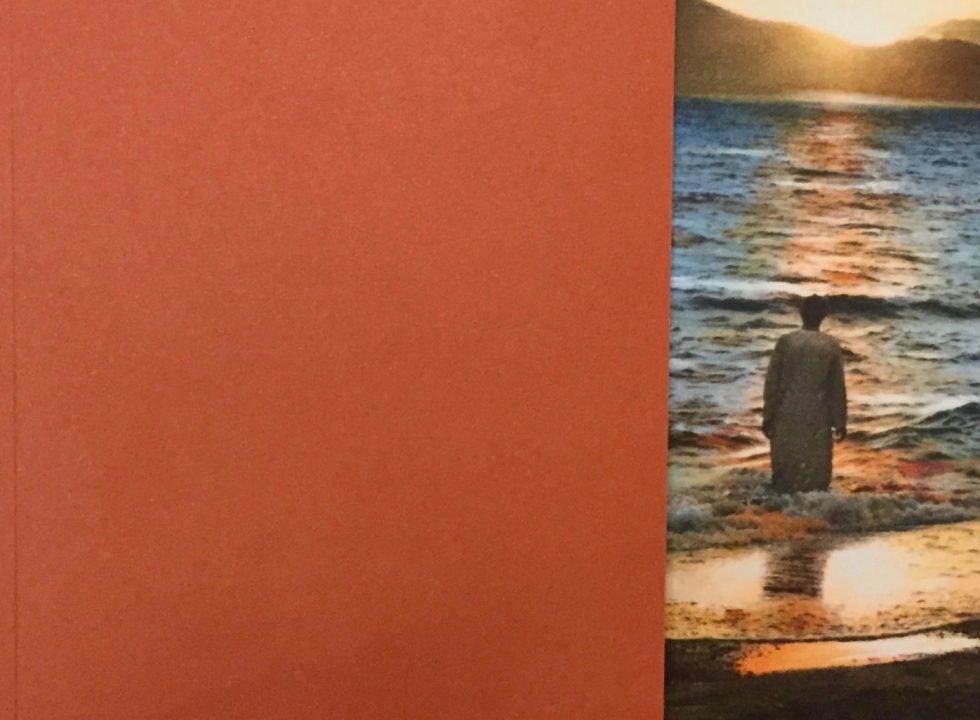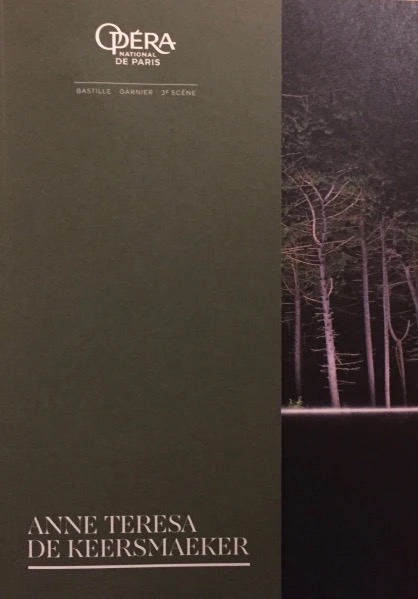Polish Pieces / Awassa Astrige / Takademe / Four Corners / Home | Alvin Ailey American Dance Theatre
Num programa só de criadores convidados, a Alvin Ailey mostra sua diversidade, deixa entrever características de sua direção artística atual, e sugere os sucessos e as dificuldades da continuidade de seu caminho. Hans Van Manen, Asadata Dafora, Robert Battle, Ronald K. Brown e Rennie Harris tem obras criticadas na penúltima postagem do Da Quarta Parede sobre a temporada da Ailey em Paris.
Ao longo da temporada parisiense da Alvin Ailey American Dance Theatre, a companhia apresentou o todo de seu repertório atual, composto por 18 obras, em 27 programas que alternavam as coreografias em diversas combinações. A principal divisão proposta pelo evento que recebeu o grupo, a 11ª edição do Les Étés de la Danse, separou o repertório da companhia em dois grupos de obras: 8 “Grandes Clássicos” e 10 “estréias francesas”.
Ao longo de sua história, a companhia teve três diretores. Obras das três direções permanecem no repertório atual, numa distribuição variada. São quatro obras do coreógrafo fundador da companhia, que datam entre 1960 e 1976; três obras da direção de Jamison (obras passadas para a companhia entre 1986 e 2010); e 11 obras da direção atual, assinada por Robert Battle desde 2011.
As diversas variações dos programas propunham noites de homenagem ao fundador da companhia — contando apenas com obras dele — programas apresentando apenas os “grandes clássicos”, uma noite de gala com as principais estreias francesas dessa temporada, e outros programas com misturas completas, mais reforçando a oportunidade de dar um gosto da variabilidade do trabalho da companhia do que de estabelecer um fio condutor para as obras.
Dentre os programas, há uma combinação que foi apresentada uma única vez, no último dia da temporada da companhia no Théâtre du Chatêlet em Paris. Esse programa traz as obras Polish Pieces de Hans van Manen, Awassa Astrige / Ostrich de Asadata Dafora, Takademe de Robert Battle, Four Corners de Ronald K. Brown e Home de Rennie Harris. São cinco coreografias, criadas entre 1932 e 2014, porém inseridas no repertório da Ailey a partir de 2011 — tendo, portanto, enquanto único agrupamento imediato, o fato de virem a partir do ano da última troca de direção da companhia.
A variedade das obras em questão e sua presença no repertório atual da Ailey servem como sugestão para o apontamento de direções do grupo, e indícios de sua continuidade, que tem um pé na preservação do passado, e outro na ideia de progressão.
A primeira obra do programa, Polish Pieces de Hans van Manen, foi criada em 1995, e está no repertório da Ailey desde 1996. A versão apresentada da obra, no entanto, é creditada como “nova produção” de 2014. Com um grupo de bailarinos vestindo macacões de corpo inteiro em cores sólidas e diferentes para cada indivíduo, Polish Pieces é uma sequência de cenas pouco carregadas de significados. Vemos uma reapropriação da fórmula do ballet à entrée: um estilo de produção de dança cênica anterior ao ballet clássico, popularizada na França entre os séculos XVII e XVIII, que foca na transição de números de dança, mais do que em uma conexão entre as diversas partes da obra (muito como os espetáculos de fim de ano das escolas de dança atuais).
Essa fórmula é impregnada de procedimentos do modernismo, como o privilegio pelo movimento mecânico, quase robótico que, junto do figurino, faz pensar em Merce Cunningham. É notável também o uso de elementos de aleatoriedade, que foram fundamentais para o desenvolvimento da dança de uma certa época, mas cuja relevância pode — e precisa —ser questionada quanto a sua pertinência neste momento, nesta companhia. São variações e combinações que — tal qual os programas dessa temporada — mostram um projeto que vai em todas as direções, se alimenta de diversas fontes relevantes historicamente, mas parece que tenta ser moderno por todos os lados, como se, ao tentar todas as possibilidades, fossem aumentadas as chances de ao menos uma delas ser bem-fadada.
Na sequência, o solo dos anos 1930 do coreógrafo de Serra Leoa, Asadata Dafora, Awassa Astrige / Ostrich coloca em cena um bailarino transformado em avestruz. Em apenas quatro minutos, temos uma obra relevante por seu estilo singular — no momento de sua criação — que misturava o modernismo (ainda nascente na Dança) a formas de danças tradicionais africanas. É particularmente interessante o aspecto da composição da obra, que propõe a criação de uma personagem, mas não a criação de uma história. A obra, que parece se apoiar num trabalho de construção cênica intenso para o bailarino, foca nessa forma de se caracterizar, de se apropriar de uma corporeidade, tão cara às investigações do modernismo.
Esclarecido esse aspecto e seu valor, ainda é possível discutir algo da pertinência da obra e de seu figurino carregado — o bailarino está em cena usando uma sunga na qual estão penduradas as penas da cauda do avestruz que ele é. Depois de todo o trabalho necessário para fazer o avestruz no corpo do bailarino, é necessário que o avestruz seja também desenhado pelo figurino — óbvio e pouco usado em cena? Esse questionamento é um retorno a um ciclo comum de discussão da dança e de seus elementos enquanto contributivos para a realização da obra, ou prejudiciais para sua completude. Nesse caso, em específico, enquanto o figurino deixa a ideia proposta fácil de ser assimilada, ele acaba funcionando em detrimento do movimento: grande parte do trabalho de quadril do bailarino passa despercebido, porque coberto ou disfarçado pelas penas.
No todo, predomina o tom interessante de exótico. Mas é importante refletir o quanto desse interessa ultrapassa o exotismo gratuito perceptível pelo público e se transporta, de fato, em matéria de dança. Enquanto matéria, a própria obra, apesar de seu caráter de exercício — possivelmente vindo da curta duração — tem uma sugestão de fonte inicial. Uma sugestão de que poderia ser desenvolvida, continuada, mas que, conforme é apresentada, enquanto vislumbre de possibilidades de outras culturas e realizações, apenas insiste no aspecto panorâmico que predomina na direção da companhia.
A direção da companhia também se apresenta e se representa mais diretamente nesse programa. Após o primeiro intervalo, temos outro solo, esse coreografado pelo atual diretor da companhia, Robert Battle. Takademe é uma das primeiras criações coreográficas de Battle, de 1999, e ele traz a obra para a Ailey em seu primeiro ano dirigindo o grupo, 2011. Relembrando a origem da obra, Battle fala que ela reflete alguns aspectos de sua própria história: tendo sido criada na sala de um apartamento onde morou, sem muito espaço disponível, o bailarino quase não faz deslocamentos horizontais, trabalhando na linha vertical, usando o corpo para impulsos impressionantes e demonstrações virtuosas.
Com uma trilha sonora que é uma vocalização de Sheila Chandra inspirada pelos tambores indianos do ritmo Kathak, o bailarino sozinho passa uma impressão ritualística genérica. Algo como um étnico não localizado: estamos colocados entre o urbano do apartamento no Queens de Battle e a referência indiana, realizada por um bailarino com calça vermelha que salta e salta e salta. Algo como um ritual, algo como uma obra religiosa, devota, mas sem sabermos exatamente a que.
Esse solo de força mostra alguns dos aspectos mais comuns aos trabalhos da companhia, como a coreografia de impulsos e realizada pelas extremidades — pulsos, calcanhares, pescoço e cabeça. Esse estilo, comum ao coreógrafo e ao histórico da companhia, pode ser um dos pontos que o colocaram eventualmente no papel de diretor. Porém, enquanto diretor da companhia e coreógrafo dessa obra, ainda há algo para esperar do trabalho de montagem e manutenção da coreografia, que tem um problema de tempo. De fato, o tempo e a contagem da trilha não são simples. A trilha sonora é quase de um percussionismo vocal inesperado, fazendo com que os movimentos, apesar de seu grande impacto que preenche visualmente e garante o deslumbre do público com a capacidade técnica do bailarino — que mostra que é bom — fiquem parecendo deslocados, desacompanhados da trilha. Também pode ser um problema o fato de que muitos dos bailarinos da companhia dançam essa coreografia. Talvez, ao tratá-la como um coringa para todos aprenderem, sobre pouco espaço para aprofundar a interpretação e a musicalidade de cada intérprete — elementos que parecem ser ponto focal da obra.
O mesmo problema não se repete na obra seguinte do programa, Four Corners, de Ronald K. Brown, que se destaca pela proposta e pela bem sucedida execução do grupo. Criada para marcar o retorno da Alvin Ailey para o Lincoln Center em 2013, de onde a companhia passou uma década ausente, Four Corners tem uma mistura única de ritual, social e espetáculo. O tema, em si, não atravessa muito claramente a obra. Em meio os bailarinos que retratam espíritos, nem mesmo os quatro anjos (dos quatro cantos do título da obra) são facilmente perceptíveis.
Inspirada por um poema musicado, a coreografia não chega a completar seu propósito narrativo. Mas muito daquilo que está adjacente à história que seria retratada pelo movimento consegue ser transmitido, como o tom de sagrado e de exploração entre o etéreo e o terreno. O foco da coreografia no trabalho percussivo do corpo, que tem os torsos curvados para baixo e o movimento tendendo ao chão, destaca a relevância da terra na obra. Os pés e braços, percutindo, dão a sensação sinestésica de que é possível ouvir o movimento dançado, como se ele vibrasse do palco para a platéia. E o uso da articulação do quadril, comum em diversas obras da Ailey, mas não tão popular em outras companhias estadunidenses, aumenta a sensação de corporeidade da coreografia.
Four Corners é uma das melhores realizações do atual elenco da Ailey. A obra toca em diversas das especialidades e características particulares das capacidades dos bailarinos do elenco. E a mistura da referência moderna com as culturas oeste-africanas cria um resultado único, mas que se encaixa suavemente no todo do repertório, e nos corpos da companhia.
Esse mesmo encaixe é problematizado na sequência. Depois do segundo intervalo, o programa da noite é encerrado com Home de Rennie Harris. O coreógrafo faz aqui seu trabalho habitual: uma obra urbana, de referência hip hop e street dance, figurinos cotidianos, movimentação explorando as articulações e extremidades do corpo, com grande carga de ataque, sobre música eletônica. Criada em 2011 a partir das propostas que ganharam o concurso “Fight AIDS your way”, a obra tenta colocar em cena 10 proposições para a luta contra a AIDS.
É difícil verificar se qualquer uma dentre as proposições está de fato compreensível. Um aspecto facilmente perceptível é uma articulação diferenciada entre indivíduos e grupos. Porém, esse tipo de trabalho de movimento pode ser apontado em praticamente qualquer obra contemporânea de grupo, de forma que discutir Home enquanto realização de uma proposta específica não traz resultados tão interessantes.
Os resultados não são muito melhores quando a obra é discutida a partir de sua execução. Quando a estréia de Harris dessa temporada, Exodus, foi discutida (nessa postagem do Da Quarta Parede), um dos pontos mais relevantes foi a característica de que a obra não parecia pronta, e que isso seria, possivelmente, resultado de ser uma obra tão recente. A mesma desculpa não pode ser aplicada a Home, que já tem quatro anos no repertório da Ailey, e tem a sua execução no mesmo nível de Exodus — um nível particularmente abaixo daquilo que se espera dessa companhia e daquilo que se observa na maior parte das obras dançadas.
O problema parece ser com a realização do estilo proposto pelo coreógrafo, mas isso não se constitui uma crítica a esse estilo, em si. A proposta de movimentação é interessante, mas aparentemente demanda capacidades e treinamento diferentes daqueles que o elenco da companhia possui. Seria injusto supor que esse conjunto de bailarinos, por mais qualificados que possam ser, sejam automaticamente aptos a dançar em qualquer outro estilo. O que vemos, então, são corpos denunciando uma dificuldade e uma compreensão de algo — e esse algo, a partir da análise das duas obras do mesmo coreógrafo, parece ser o estilo.
Home é a obra mais recente listada pela companhia como pertencente ao grupo de “grandes clássicos”. Talvez seja representante de um desejo da direção de Battle — afinal, podemos ver que há uma insistência em repetir o convite a Harris para trabalhar com o grupo. Mas a obra esbarra no considerável limite das capacidades. Porém, isso não deve ser visto como algo em detrimento desse elenco. O talento da companhia é observável inúmeras vezes ao longo desse programa e das muitas outras obras do repertório. Mas isso pode ser apontado como um problema de direção. Uma discrepância artística da associação insistente desses bailarinos com esse coreógrafo nesse contexto.
Aqui, contexto volta a se destacar como um dos termos-chave para se pensar a Ailey. A variedade do grupo é tamanha que parece escorrer por mais caminhos do que a direção consegue organizar. Estamos acompanhando, em tempo real, um processo raro historicamente: temos uma companhia de criador, que ainda leva o nome de Ailey, mas que está já há um tempo considerável sem seu fundador, sendo levada adiante por seus discípulos, os quais, como qualquer outro diretor, podem (e devem) ter projetos artísticos particulares. Permanece necessário questionar o quanto é possível manter nessas condições o projeto de Alvin Ailey — única justificativa artístico-criativa para a continuidade de uma companhia que leve seu nome.