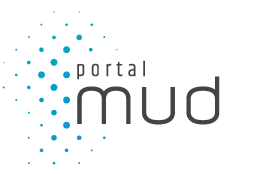A dança do outro
Cabe mais gente na plateia do que no palco: não é à toa que a dança que me interessa não é a minha, é a do outro
Já faz alguns anos, eu tinha acabado de apresentar meu projeto de doutorado pra banca de seleção, discutido as referências teóricas, e a lista de coreógrafos que eu usaria para exemplificar os aspectos que eu queria trabalhar, quando uma professora da banca me perguntou: “E por quê você não vai pesquisar a sua dança?”
A pergunta não me abalou tanto, porque eu já tinha passado anos respondendo a outras versões dela. A mais recorrente, e a que eu menos gosto, é “mas você também dança?”. Como se só o corpo dançante — só o corpo dançando — pudesse falar de dança. Como se dançar fosse a única forma de fazer parte disso. Não é.
Como teórico convicto, e um pouco encabulado com o palco e as luzes, eu sei que o meu lugar de preferência é a plateia. Faz muito tempo que eu sei que a dança que me encanta não é a minha, é a dança do outro.
Numa arte que constantemente reclama da falta de público, eu fico embasbacado com o tanto de gente que parece querer me convencer a ir pro palco. Sem interesse… eu fujo até de obras participativas! Zero vontade de ser visto nesse lugar. Mas todo o desejo de ir ver.
A arte trabalha o tempo todo com o “outro”. Dança é comunicação entre corpos — ênfase no “s” do plural. A arte apresenta, retrata, propõe, discute, aborda, reflete, e fala. Mas ela não fala sozinha: os artista falam com a gente, na plateia. Nós somos os outros deles, eles são os outros nossos.
Os lugares podem variar, mas a co-participação é pré-requisito: nessa conversa, ninguém fica sozinho, e todo “eu” precisa de um “outro”.
A troca é constante. Ser o “outro” não me diminui. Eu não deixo de fazer parte da conversa, nem de aproveitar, quando eu assisto à dança de um outro “eu”. E, de formas enviesadas, eu acho as brechas pra dar a minha resposta: aplaudindo, comentando, conversando sobre, escrevendo, estudando, pesquisando, apreciando.
Não me falta nada. Eu sou o “outro”, fora do palco, mas não tão longe do “eu”, que me conta coisas que eu mesmo não seria capaz de contar, e que faz isso de formas fascinantes e inesperadas, que eu não seria capaz de fazer.
Ali, debaixo dos refletores, eles também acabam sendo o “outro” do meu “eu”. Quietinho na penumbra, eu assisto, totalmente contemplado por todo esse trabalho que esses “outros” colocam em cena, e com o qual eu tenho o privilégio de dialogar.
Eu não sou “gente do palco”, eu sou “gente da plateia”. E tá, é diferente, mas, pra falar a verdade, também é a mesma coisa… no fundo, é tudo “gente de dança”, e todo “eu” precisa de “outros”.